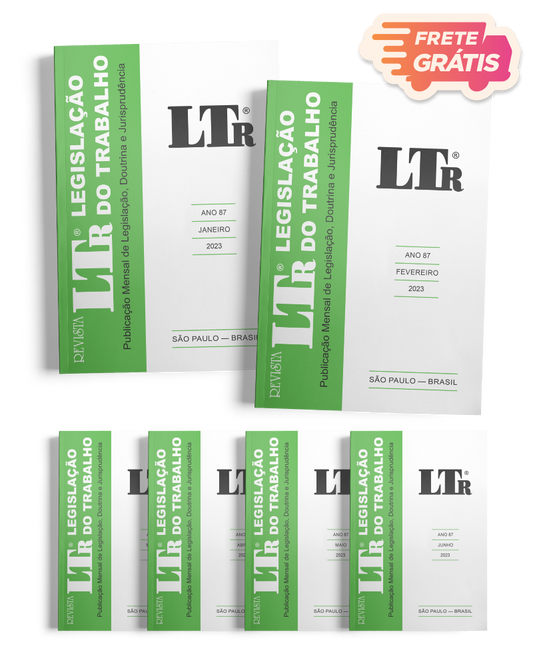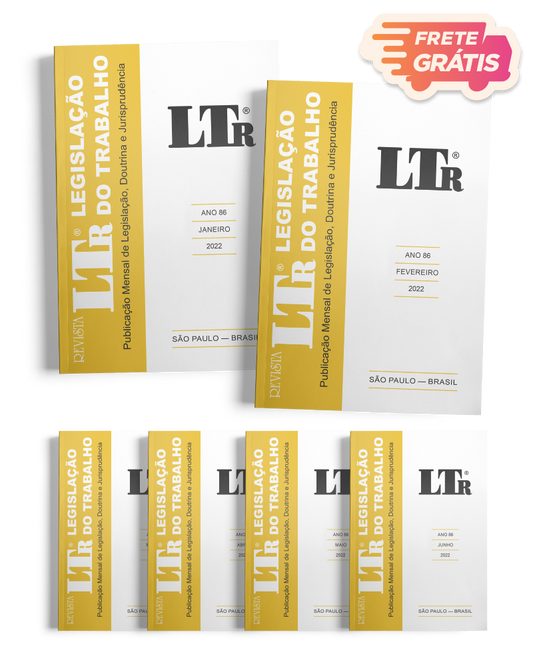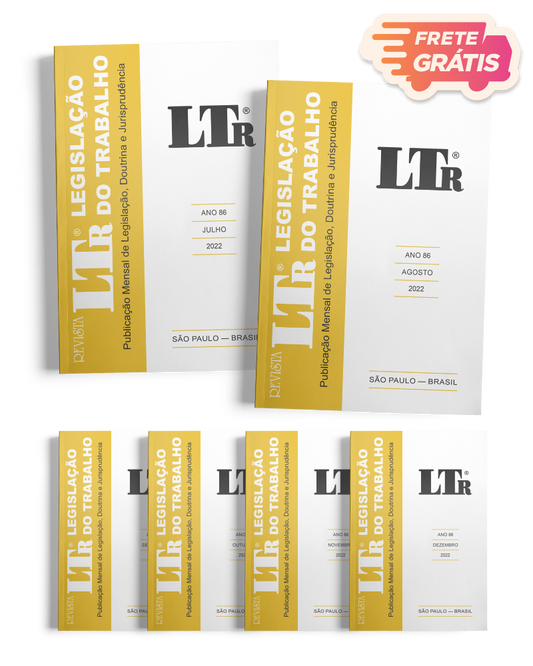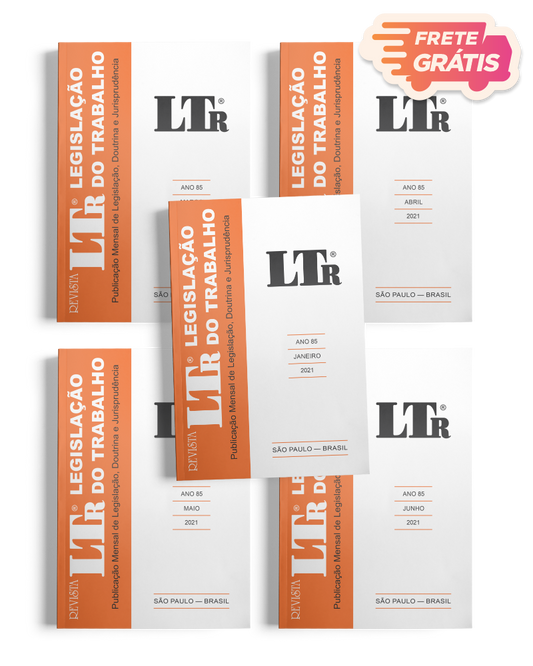Os Efeitos da Revolução Digital no Direito Coletivo do Trabalho
No século XX, a concepção de um Estado onipresente e provedor colocou o modelo estatutário na centralidade do sistema jurídico brasileiro, até que a revolução tecnológica, desencadeada em suas últimas décadas, veio provocar alterações profundas nas formas de viver e trabalhar, nos parâmetros de espaço e tempo, em que até as “horas perderam seu relógio”, na oportuna expressão do poeta chileno Vicente Huidobro, levando à crescente dificuldade do Estado para resolver os novos conflitos coletivos, agravada pela complexidade multifária trazida pela revolução digital.
A evolução da revolução digital acelerou vertiginosamente neste início do século XXI, desencadeando um movimento disruptivo de grande expressão, que trouxe novos tipos de relações de trabalho mediante a utilização de plataformas, que passaram a moldar novos tipos de cadeias produtivas, pautadas pela interconexão concomitante de diferentes agentes econômicos.
O trabalho, antes desenvolvido predominantemente em um lugar que reunia muitos trabalhadores no mesmo espaço físico, passou a ser substituído em larga escala por ferramentas digitais, ao mesmo tempo em que aumentou a demanda pela prestação de serviços de forma isolada e individual.
Quando a nova tecnologia provoca o surgimento de múltiplas modalidades de relações trabalhistas e rompe a hegemonia, que até então detinha o modelo empregatício celetista no Brasil, é preciso evitar não só que o trabalhador, mas que a pessoa humana seja reduzida à condição de mercadoria, oferecendo respostas ao desafio de articular o pilar da regulação com o pilar de emancipação. Nesta sociedade, cada vez mais desestruturada e fragmentada, desorientada pela falta de parâmetros claros e objetivos de conduta, o Direito do Trabalho é chamado a enfrentar novos desafios.
Isto porque, se a força de trabalho pode ser considerada objeto de um contrato, a pessoa que a detém não é um bem negociável, cabendo ao Direito do Trabalho assegurar os limites desta diferenciação.
Neste cenário, em que é necessário encontrar caminhos para obter soluções construídas pela via de inclusão dos trabalhadores nos processos decisórios, o movimento de disrupção atinge o direito coletivo de maneira significativa, notadamente no que se refere à negociação coletiva e à atuação sindical.
Daí a importância da autonomia privada coletiva e o estímulo ao diálogo social para o fortalecimento das fontes autônomas do direito, a fim de que a cultura do conflito aporético seja substituída pela busca de soluções concertadas pela valorização da negociação coletiva, como locus privilegiado para construção de normas que possibilitem a intersecção dos critérios de justiça comutativa com justiça distributiva.
Interessante observar que, desde sua gênese, o Direito do Trabalho surgiu com o escopo de inserir a justiça distributiva na lógica comutativa dos contratos, o que deu margem para questionamentos, sob a alegação de que se revestia de índole predominantemente assistencial, incompatível com a natureza da normatividade jurídica.
Apesar das resistências que enfrentou durante todo o século XX, o Direito do Trabalho criou raízes sólidas como ramo autônomo, justamente por este diferencial, que reconheceu o valor jurídico da justiça distributiva, retirando-a dos limites assistencialistas em que era colocada até então.
Porém, o modelo estatutário estatal rígido e estático, construído no século passado, vem se revelando insuficiente para oferecer respostas aos novos conflitos.
Por outro lado, imperioso reconhecer que o imbricamento dos critérios de justiça distributiva com justiça comutativa germinou e floresceu pela valorização da solidariedade como um novo horizonte normativo, que se espraiou por todo o sistema jurídico, assim expressamente reconhecido pela Constituição Federal de 1988, como um dos marcos estruturantes da república brasileira, na esteira da Declaração de Filadélfia Aplicado nas relações entre particulares, o princípio constitucional da solidariedade veio respaldar os critérios fixados pela boa-fé objetiva e pela atribuição de função social ao contrato, assim repristinando o conceito de justiça distributiva que lhe é subjacente.
Tais reflexões se revestem de significativa importância neste início do século XXI, pois, ante a crescente insuficiência do modelo estatutário estatal para oferecer respostas à dinamicidade dos desafios trazidos pela revolução digital, a atuação direta dos próprios atores sociais representantes do capital e do trabalho, pela via da negociação coletiva, pode construir caminhos mais ágeis para restaurar a funcionalidade do imbricamento da justiça comutativa com a justiça distributiva, notadamente pelo reconhecimento de que a valorização dos direitos humanos fundamentais nas relações de trabalho não tem natureza assistencial, mas jurídica.
Assim, demanda um novo modelo de atuação sindical e de cultura organizacional das empresas, como muitas já vêm realizando, com a mudança do mindset dos seus sistemas de compliance, pelo reconhecimento da importância da implementação das práticas indicadas pela ESG (Environment Social Governance), pois a governança corporativa não pode mais ser feita de forma isolada, devendo ser operacionalizada em conexão com os valores sociais e ambientais, o que evidentemente envolve as relações de trabalho e inclui o meio ambiente laboral, tanto físico quanto virtual, em sintonia com os objetivos traçados pela Agenda 2030 da ONU.
Embora a mudança seja fator intrínseco à própria vida em sociedade, nossa era contemporânea sofre os efeitos do ritmo frenético destas alterações, que tem levado a um ambiente de crescente instabilidade.
Conforme ressalta o sociólogo Zygmunt Bauman , a sociedade pós-moderna do século XXI é uma sociedade líquida, fluída, caracterizada pela volatilidade e mudança frequente, que por um lado rejeita compromisso e autoridade, mas por outro lado apresenta elevado anseio por segurança, o que leva à situação de permanente conflito na seara trabalhista, pois o “trabalho sem corpo da era do software não mais amarra o capital”, permitindo ao capital “ser extraterritorial, volátil e inconstante (...) o capital pode viajar rápido e leve e sua leveza e mobilidade se tornam as fontes mais importantes de incerteza para todo o resto”, constituindo-se, assim, na sua principal “base de dominação”, o que traz um grande desafio para o modelo dogmático estatutário que imperou no sistema jurídico no século XX.
Este novo modo de “viver sem raízes”, que em um primeiro momento dá a impressão de leveza e suavidade, sub-repticiamente tem capturado e coisificado a essência do humano. Ante a falta de padrões éticos referenciais, a pessoa se transforma na sua própria justificação epistemológica, o que compromete a construção de significados que sustentem a vida em sociedade, inclusive quanto à linguagem, pois ao invés de possibilitar a convivência, vem seapequenando pelo uso intensivo da dissimulação, na construção de narrativas dúbias, o que compromete sua eficácia como meio de comunicação.
Nesta sociedade cada vez mais fragmentada e dilacerada pela agressividade na defesa dos interesses contrapostos, surge um anseio crescente por equilíbrio e segurança.
Portanto, inafastável a constatação de que a revolução digital veio colocar em crise o modelo estatutário e apresentar novos desafios ao modelo negocial trabalhista, passando a exigir um novo protagonismo das entidades sindicais, notadamente quanto à construção de marcos protetivos para os novos tipos de relações de trabalho que estão surgindo.
Os efeitos provocados pela revolução digital no direito coletivo do trabalho demonstram ser necessário resgatar a centralidade do princípio da primazia da realidade na base da sustentação deontológica do Direito do Trabalho e, assim, superar a rigidez da dogmática estatutária, formal e teórica, que compromete a funcionalidade do sistema jurídico trabalhista no século XXI.
Destarte, é preciso que o Direito abra seu núcleo axiológico para reconhecer novos valores e, assim, considerá-los não só para a formatação de um novo padrão normativo, mas também de um novo modelo de hermenêutica, a ser pautado pela ponderação, sopesamento, prudência e sensatez na avaliação das condicionantes sociais e econômicas, que exigem do intérprete sabedoria prática para compreender as consequências e efeitos decorrentes da aplicação da norma, em uma sociedade que enfrenta elevado nível de contingência em seu acelerado processo de mutação.
Ademais, a profundidade das alterações provocadas pela revolução digital, neste mundo em transformação, evidencia que a ressignificação do Direito do Trabalho, focado em uma nova dimensão dos direitos humanos fundamentais, não virá pela via do direito individual, mas do direito coletivo.
Tal ocorre porque os novos desafios não são apenas conjunturais, pois provocam sérios abalos na estrutura do edifício normativo trabalhista, assim demandando uma análise mais detalhada e percuciente, para aferir como poderão ser eficazmente enfrentados.
Neste contexto, está em jogo a formação de um novo modelo de normatividade trabalhista, focado com maior ênfase na autocomposição e no consequente aprimoramento da negociação coletiva, não só nas técnicas até agora utilizadas, mas também em sua dinâmica e amplitude de abrangência.
Com efeito, é preciso reconhecer que a implementação de novos modelos organizacionais da atividade produtiva só se revestirá de eficácia se houver a valorização e interconexão com os direitos humanos fundamentais.
Assim, o conceito de justiça distributiva não prescinde do princípio da eficiência, que supera sua conotação meramente econômica e passa a revestir-se de conotação jurídica, ante a constatação de que a ineficiência causa mais danos aos que tem menos condições de reagir.
A revolução digital vem demonstrando que, na realidade do século XXI, eficiência e dogmática jurídica trabalhista atuam cada vez mais como vasos comunicantes, em constante interconexão, porque a ineficiência é causa de injustiça e, assim, provoca a disfuncionalidade do sistema, o que compromete a própria legitimidade do Direito.
A atuação direta das partes interessadas na elaboração das normas de conduta, mediante o fortalecimento da autorregulação e da autocomposição, num movimento de baixo para cima, que internaliza com maior ênfase a soft law no Direito do Trabalho, vem desafiar a formação de um novo sistema jurídico trabalhista do século XXI.
Tais são os principais questionamentos que nos propomos a enfrentar nesta obra, ao analisar os efeitos da revolução digital no direito coletivo do trabalho.